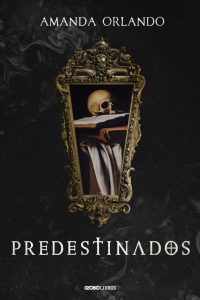Clock
Direção: Alexis Jacknow
Ano: 2023
País: Estados Unidos
Distribuição: Star+
Nota do crítico:
A sociedade tem diversas formas de coagir um indivíduo a fazer coisas que, a princípio, ele não queria. Algumas mais supérfluas, como assistir a série do momento ou comprar aquele produto. Outras coisas são bem mais cruéis.
Em Clock (porque eu me recuso a chamar o filme pela tradução oficial em português), acompanhamos a jornada de Ella (Dianna Agron, Glee), que após ser coagida pelas amigas, pai e até por médicos, decide engravidar, mesmo contra sua vontade.
Ella é uma designer de interiores aclamada em sua área, que vive uma boa vida com seu marido Aidan (Jay Ali, Demolidor). A questão é que Ella não quer ser mãe – e ELA está bem com isso, mas não os outros –, chegando até mesmo a ser diagnosticada com tocofobia (fobia de engravidar) em um momento do filme.
Ela então descobre a Doutora Elizabeth Simmons (Melora Hardin, The Office), que possui um “tratamento” que promete “tornar a mulher normal novamente” e, assim, desenvolver o desejo de gerar uma criança.
Desde a cena inicial, Clock já deixa explícito tudo o que vai acontecer e até onde a trama vai chegar. E, de fato, poucas coisas que acontecem durante o filme são novidade ou pegam a gente de surpresa, mas, ainda assim, eu achei uma boa história.
Talvez eu já estivesse inclinado a gostar, pois eu sou fã da Dianna desde a época de Glee. Isso já é um motivo mais que suficiente para eu aclamar qualquer coisa que ela faça.
Numa coisa meio “Bebê de Rosemary sem bebê” e “O Babadook sem criança”, Clock vai tocando em assuntos como maternidade, depressão, pressão da sociedade, conflitos geracionais e tudo de uma forma meio dúbia: é psicológico ou tem questões sobrenaturais na equação?
E apesar de seus diversos problemas de construção da história, acho que o filme passa a mensagem que pretendia e ainda inclui uns subtextos sobre herança famíliar e holocausto que eu não estava esperando.
Clock, baseado num curta-metragem de mesmo nome lançado em 2020, é claustrofóbico desde seu início e, junto com Ella, vamos ficando cada vez mais sufocados na tentativa de ver a personagem sendo coagida por todos e até por si.
Primeiro ela se sentindo acuada em frente a suas amigas grávidas e ao pai, o sobrevivente do holocausto Joseph (Saul Rubinek, Hunters) – que aliás, é odiavel boa parte do tempo. Depois, até a médica que vai examiná-la começa a criticar a mulher com a desculpa de estar usando dados científicos. Finalizando com um “ato falho” do marido que deixa claro o que pensa dela não querer filhos.
Em uma contagem regressiva para os seus 38 anos de idade, Ella também se vê vencida pelo cansaço de ter que se explicar por algo que ela não deveria ter que explicar. Ela é tratada como uma pessoa desequilibrada pelo único fato de não querer ter filhos. Ella vai saindo de seu mundo colorido para um mundo, literalmente, cada vez mais opaco.
Apesar de momentos em que eu fiquei genuinamente nervoso, como no jantar de aniversário da Ella ou no tanque sensorial, o filme para mim peca muito no desenvolvimento dessas situações. É como se ele fosse do ponto A ao ponto C sem se preocupar muito com o ponto B entre eles. Tudo fica com uma sensação de correria. Além de umas cenas não intencionalmente engraçadas.
O filme também, na metade, vai se tornando um pouco repetitivo. Sei que é quando vamos entrando cada vez mais na psique da personagem e vamos entendendo cada vez mais o significado de suas alucinações – ou visões – e também compreendendo a dinâmica daquelas relações.
Porém, ainda assim, durante uns bons vinte minutos pelo menos parece que estamos vendo apenas a personagem entrando numa espiral de paranóia sem fim que não tem muitos efeitos concretos.
Tic-Tac: A Maternidade do Mal trás questionamentos, críticas, cenas meio perturbadoras e uns risos involuntários por momentos esquisitos. É tanto um filme de horror quanto uma sátira ácida de até onde uma mulher pode ir para se sentir o mais normal possível perante os outros e o quanto isso tudo custa.