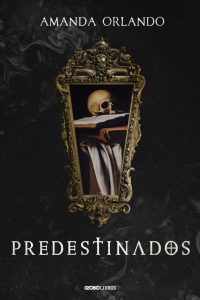Cargo
Data de Estreia no Brasil: 18/05/2018
Direção: Ben Howling, Yolanda Ramke
Distribuição: Netflix
Em meio a bombas como “Mudo” e “The Cloverfield Paradox” – que recebem robustas campanhas de marketing e divulgação – a Netflix sempre lança “sorrateiramente” ótimos filmes em seu catálogo. Felizmente para os fãs do horror, “Cargo” é uma dessas gemas que surgem quase que escondidas em meio a tantos títulos disponíveis. Evitando desperdiçar tempo com qualquer tipo de contextualização expositiva, o roteiro assinado por Yolanda Ramke nos apresenta o casal Andy (Martin Freeman) e Kay (Susie Porter), que velejam com sua filha Josie (um bebê que ainda arranha suas primeiras palavras) por um rio da Austrália. Fica claro pelos diálogos inicias entre o casal e pela paisagem retratada em câmera, que o mundo de “Cargo” está em um estágio inicial de apocalipse causado por uma doença contagiosa que transforma os infectados em mortos-vivos. Acontecimentos do primeiro ato (que prefiro não revelar nesta crítica) estabelecem que após uma infecção por mordida, restam apenas 48 horas de vida para o “hospedeiro” antes da “transformação”.
Para deleite deste que vos fala, “Cargo” funciona em dois níveis, bem equilibrados e perfeitamente funcionais por seus próprios méritos. Enquanto em sua primeira camada o filme funciona como um suspense extremamente competente sobre amor paternal/maternal dentro de um ambiente inóspito, há ainda um subtexto muito bem construído e impactante, que aborda relações de gênero e estabelece sua narrativa de uma infecção viral como uma alegoria para a colonização inglesa da Oceania. A presença de uma grande quantidade de personagens de origem nativa na trama é o elo de ligação entre estas duas camadas. Assim, torna-se importante para o arco de Andy o fato de que, percebendo a infecção zumbi antes de todos, quase como um desdobramento da “doença” maior trazida pela presença branca em suas terras, os aborígenes recrudescem a seu território de origem e se tornam a única esperança de manutenção de qualquer tipo de organização civilizacional.
Tal metáfora é sustentada pelo roteiro com a introdução dos personagens de Thoomi e Vic. A menina aparece cedo na longa busca de Andy por algum tipo de resquício civilizacional, quando os dois se esbarram na floresta enquanto a menina tenta proteger o “cadáver” de seu pai na esperança de um dia poder salvá-lo. Mais à frente, somos apresentados ao claro antagonista da história. A maior aproximação possível com um redneck fanático por armas dentro do contexto australiano, Vic gasta seu tempo coletando gasolina, matando “zumbis” e extraindo seus bens pessoais. Em suas próprias palavras, o personagem guarda tudo isso na esperança de que um dia a civilização ressurja e ele ocupe nela uma posição de poder por conta dos bens que acumulou. Uma clara representação de todos os principais malefícios da sociedade moderna, Vic captura os descendentes dos antigos grupos aborígenes que encontra e os mantém em gaiolas para atrair os mortos-vivos. Metáfora mais óbvia com a escravidão de populações indígenas por indivíduos detestáveis e o consentimento silencioso da sociedade mais ampla, impossível.
Apesar destas belas metáforas, há um grande problema de “Cargo”: embora funcionem perfeitamente por si só, as duas camadas narrativas apresentadas pelo roteiro não conversam muito bem, resultando em uma trama muitas vezes inchada e com uma quantidade excessiva de coincidências e facilitações narrativas. Fica visível a partir de um ponto que o caminho de Andy em busca de algum resquício de sociedade é muito pesadamente influenciado pelo plano mais amplo traçado pelo roteiro. A introdução dos personagens soa forçada e em alguns momentos faz o filme parecer uma espécie de parábola que introduz elementos que servem à “moral da história” sem o devido cuidado cinematográfico e narrativo. É recorrente na trama momentos em que torcemos o nariz à decisões estúpidas dos protagonistas ou soluções convenientes a problemas aparentemente impossíveis (o famoso deus ex machina). Apesar de suas inúmeras qualidades, falta ao roteiro de Ramke uma sofisticação narrativa que sobra em Get Out, por exemplo, para integrar a estética/forma de “Cargo” com seu subtexto.
Apesar destes vários problemas de roteiro, “Cargo” funciona muito bem como um suspense. Após um primeiro ato muito efetivo em nos engajar nos anseios dos personagens e em suas pretensões completamente “relacionáveis”, passamos a acompanhar nervosamente suas andanças por um ambiente extremamente hostil. Todos nós possuímos alguns “tiques” de linguagem corporal que demonstram nervosismo e, posso garantir, que durante “Cargo” senti uma constante apreensão muito semelhante à minha experiência com Um Lugar Silencioso (embora em menor grau). O final, que consegue ser satisfatório tanto narrativa quanto metaforicamente, amarra bem as pontas de um suspense que passa muito longe de ser perfeito, mas que consegue se destacar por sua latente originalidade em meio a um mar de obras “meh” ou simplesmente ruins que saem da linha de montagem Netflix. Com um olhar reflexivo sobre a sociedade a partir de sua metáfora pós-apocalíptica, “Cargo” segue a cartilha Romero com uma grande dose de inovação, consolidando-se como uma ótima adição ao gênero.