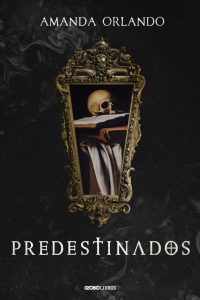American Horror Story: Double Feature
Data de Lançamento: 25/08/2021
Criação: Brad Falchuk e Ryan Murphy
Distribuição: Star+ (Brasil)
A décima temporada de American Horror Story (AHS) foi intitulada “Double Feature”, em referência ao “movimento” da era de ouro do cinema que consistia em passar um filme tipo “A” (mais prestigiado) seguido por um filme tipo “B”. Essa prática foi abandonada com o tempo, passando de cinemas tradicionais para drive-ins, de drive-ins para algumas fitas VHS até que ficasse apenas na história.
Inspirada pelo espírito double feature, a décima temporada foi dividida em duas partes, com histórias independentes. A primeira parte, Red Tide, contou com seis episódios e nos mostrou a história da família Gardner, que precisa lidar com os perigos da busca pela perfeição. A segunda, Death Valley, teve duas histórias entrelaçadas em seus quatro episódios e mostrou a verdade sobre nossa civilização.
Creio que nenhuma outra temporada de AHS foi tão pessimista e desesperançosa. Nem a temporada que se auto intitula Apocalipse conseguiu reunir tantos aspectos negativos do ser humano, retratando personagens, em sua grande maioria detestáveis, ou apenas impotentes diante de um poder maior.
Red Tide usa do estereótipo do “artista é tudo safado” e eleva-o à décima potência. Vemos Harry (Finn Wittrock), um escritor mediano e travado no trabalho, condenar indiretamente toda a sua família ao usar mágicas pílulas negras, posteriormente chamadas de “Musa”. A pílula é capaz de ascender a consciência de quem a toma e libertar todo o potencial do mesmo, mas só serve para quem já tem talento. Caso contrário você se torna um dos “pálidos”, seres sem consciência que andam apenas com o intuito de consumir.
Toda a dúvida que consome Harry durante a temporada é dúbia: ele realmente sente que aquilo é errado ou joga apenas baseado no que é socialmente correto? Como sua filha, Alma (Ryan Kiera Armstrong), ainda não é tão consumida pelos padrões morais da sociedade, ela se entrega muito mais rápido às delícias que a perfeição lhe dá, condenando a própria mãe, Doris (Lily Rabe), no processo.

Os outros personagens que circulam a trama são os escritores veteranos na Musa, Austin (Evan Peters) e Belle Noir (Frances Conroy). Belle, inclusive, possui um bom episódio voltado a sua história, mostrando várias camadas da personagem de Conroy – que está maravilhosa como sempre. A Sarah Paulson está exagerada de uma forma legal com a sua Karen, personagem maltrapilho que consiste em chorar e tossir por ai, mas que possui bons momentos finais, junto ao personagem de Macaulay Culkin.
Red Tide foi, sem dúvidas, a melhor parte da temporada e apesar de seu episódio de finalização ser tosco, apresentou bons personagens com motivações e transformações incríveis. Ao contrário do que ocorre em Death Valley.
A parte B da série abraçou o trash e, repartida em dois blocos temporais, se inicia com uma estética em preto e branco que se passa a partir de 1954 e sua outra metade no presente, colorido, acompanhando quatro jovens em uma situação surreal.
O início do sétimo episódio, introdução da Death Valley, é muito bom. Toda a sequência constrói um suspense maravilhoso e estranho, mas evolui para um dramalhão que está mais focado em usar todas as lendas urbanas que envolvem OVNIs e celebridades da época e que perde muito mais ao focar nos quatro protagonistas do “presente” que são desnecessariamente clichês e sem carisma.

Envolvimento do governo com extraterrestres, toda a tecnologia ter vindo desses seres, a morte de Marilyn Monroe (!), o desaparecimento de Amelia Earharth, os experimentos sombrios na Área 51, reptilianos. São apenas algumas das diversas lendas urbanas que eles “confirmam” nessa temporada. A temporada parece ter sido construída em torno dessa premissa e escrita apenas para checar todas essas caixas.
Mesmo colocando em perspectiva que a segunda parte da temporada não é para se levar tão a sério, é impossível não ficar decepcionado quando os episódios vão avançando e a trama parte para uma resolução simplista, principalmente no “presente”, que está ali praticamente apenas para ser estranha e causar um desconforto. A história poderia ser mais interessante e imersiva, mas nem o roteiro nem os personagens auxiliam nisso, lembrando mais uma continuação de algum episódio mediano de American Horror Stories (que, aliás, também conta com a Kaia Gerber no elenco).

Porém, em aspectos técnicos, a temporada está maravilhosa. As duas partes possuem uma ambientação muito boa. Tanto o clima pálido e gelado de Red Tide, quanto as roupas e trejeitos das décadas de 1950 e 1960 são muito imersivas e vão contando a história junto a todo o resto. A trilha sonora é a característica da série, com um instrumental que acompanha pelos momentos mais tensos e ajudam no estranhamento ao que está havendo.
Em Death Valley, American Horror Story se concentra em condenar a suposta herança maldita que veio junto a tecnologia: a submissão da raça humana aos aliens. A crítica sobre a destruição do planeta e de suas dádivas é clichê é apontada em diálogos pastelões. A conclusão é desesperançosa, e acaba na finalização da raça humana, assim como em Red Tide.
A experimentação de American Horror Story em mudar a dinâmica da série ao contar histórias diferentes dentro da mesma temporada vai de encontro com o que seu spinoff, American Horror Stories, está fazendo, que é abranger diversas mitologias e possibilidades criativas – deixando a qualidade em segundo plano.
A baixa audiência na TV pode até ser justificada pelos streamings, mas é algo a se atentar para as próximas temporadas (a série já está renovada até a 13ª) já que a qualidade irregular das temporadas podem causar muito problema para manter o público recorrente e principalmente para atrair novas audiências.