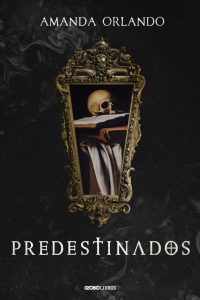“We are the weirdos, Mister.”
Numa época em que estamos revisitando bastantes clássicos dos anos 70, 80 e 90 – uma sequência de Halloween (1978), um novo filme da franquia Pânico, um reboot de Candyman etc. – “Jovens Bruxas” – The Craft (1996), no original – ganhou uma chance de ser atualizado para os tempos atuais no cinema e, produzido pela gigante Blumhouse e dirigido e roteirizado por Zoe Lister-Jones (Life in Pieces), ganhou uma continuação passados 24 anos do filme original.
“Jovens Bruxas: Nova Irmandade” é um filme que se encaixa no molde de seu predecessor, mas que, ao atualizar alguns enredos, acaba ganhando muitos pontos pela fluidez de seu roteiro, apesar de perder bastante força no terceiro ato, dando a impressão de que tudo foi resolvido às pressas.
O filme segue Lily (Cailee Spaeny, Devs) que se muda com a mãe para viver na casa do seu novo padrasto e seus três novos meio-irmãos. Na escola, após um incidente, ela acaba se aproximando de três garotas: Frankie (Gideon Adlon, The Society), Tabby (Lovie Simone, Greenleaf) e Lourdes (Zoey Luna, Pose). As três se dizem bruxas e acham em Lily a peça que faltava para completar seu coven. As quatro protagonistas são carismáticas e graças a isso o filme ganha em engajamento durante os momentos em que elas treinam seus novos poderes e fortalecem sua magia e sua amizade.
As regras da magia são similares às do primeiro filme, porém aqui são mais bem definidas. As garotas utilizam-se dos pontos cardeais em combinação com os quatro elementos da natureza, símbolos da Wicca. Cada uma representa seu elemento, e carregam características como parte de seu temperamento de acordo com os dizeres da astrologia.
Aqui abandonamos as ideias religiosas do antecessor; damos adeus a igreja católica, ao visual gótico com crucifixos e divindades que representam Deus e o Demônio, temos apenas magia sem aparentes consequências e que deriva de energia, intenção e herança genética. Todas as simbologias de “ataque feminino a instituições religiosas” foram eliminadas e modificadas para um outro tipo de perigo: o machismo.
O coven de 1996 tem uma jornada incrível de se acompanhar, embora seja de fato difícil de entender as viradas que o filme dá de forma tão brusca: as protagonistas vão de desconhecidas a amigas e depois inimigas muito rapidamente e embora exista uma explicação para isso em tela, é complicado de engolir a menos que a suspensão de descrença esteja em alta – deixo a nota de que sim, é um filme, o tempo passa de forma diferente nessas obras, mas a virada não deixa de ser brusca.
Contudo, no filme de 2020 a amizade, mesmo que também comece de forma brusca, se desdobra naturalmente e é aí que se dão algumas mudanças muito interessantes entre os dois filmes. A atualização para o momento de consciência política e sociológica atual causa uma influência interessante para se comparar essas duas obras.
Porém o filme, apesar de um bom entretenimento, passa longe de ser perfeito. O terceiro ato é difícil de engolir, com uma conclusão corrida e onde aparentemente o orçamento foi menor do que o esperado. O que deveria ter um tom épico foi apenas ‘xoxo’ e fácil. As falas, embora emblemáticas, podem ter sido desenhadas demais para causar o impacto que a roteirista achou que iriam causar e por conta disso soam piegas quando ditas aos gritos pelos personagens. A escalada da tensão necessária para o filme ser o “horror” que reivindica ser é inexistente e faz com que não fiquemos um minuto sequer apreensivos pelas personagens, o que é um perigo em um filme que lida com antagonistas mestres em magia.
Outro ponto negativo é a representatividade. Muito se fala em escalar atores e atrizes que fazem parte de grupos marginalizados – negros, LGBTQI+, PCD – mas esta escalação não pode ser leviana. Ou seja, o personagem não pode estar lá apenas para ser um totem decorativo. Zoey Luna – atriz trans – é uma das quatro protagonistas do filme e, além de ser a que menos possui tempo de tela, é a que menos tem participação em falas, apenas balançando a cabeça em momentos decisivos ou falando “Concordo!” quando as outras afirmam algo.
Ter uma atriz trans é algo a se comemorar, porém mais que isso é necessário que a personagem seja participativa; que seja, de fato, uma personagem. Dito isso, é inegável que além de Lily, nenhuma outra personagem tenha tido qualquer aprofundamento verdadeiro no longa. Todas elas eram apenas suportes para auxiliar a “verdadeira protagonista” a alcançar um objetivo e fazer a trama avançar até o ponto em que elas estariam lá para ajudar Lily novamente.
“Jovens Bruxas: Nova Irmandade” é um filme que, sem dúvida, é uma boa diversão, porém perde grandes chances de superar o seu irmão mais velho, que continua sendo um clássico. O filme sem dúvidas ganha muito ao adaptar a cultura atual às telas, no entanto, mais do que símbolos, era necessário que a adaptasse em forma de ações. No mais, vale a pena conferir o filme para manter o espírito das bruxas e da nostalgia aceso.