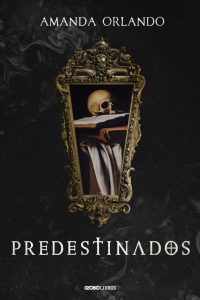Midsommar
Data de Estreia no Brasil: 19/09/2019
Direção: Ari Aster
Distribuição: Paris Filmes
Confesso que não sou muito fã de sinopses, mas desta vez sinto a necessidade de começar a crítica de “Midsommar” com uma breve premissa, para que o(a) leitor(a) entenda o grau de maluquice que é este novo roteiro de Ari Aster (“Hereditário”). Começamos o filme acompanhando Dani, uma jovem universitária que mora longe dos pais e recebe uma preocupante mensagem de sua irmã mais nova. Após uma conversa de telefone com seu namorado, Christian, (que já estabelece muito bem a relação problemática entre os dois), Dani recebe notícia de que sua irmã havia se suicidado e matado seus pais junto. Christian acaba, a contragosto, convidando-a para uma viagem de duas semanas para a Suécia, mais especificamente para a comunidade natal de seu amigo antropólogo, Pelle, onde os três supracitados, além de Josh e Mark, acompanhariam as tradicionais festividades do solstício de verão.
É importante dizer que o primeiro ato de “Midsommar” é excelente em sua construção de tensão. Desde o começo do filme sabemos que algo traumático está prestes a acontecer, o que torna o desespero de Dani e seu diálogo com um desinteressado Christian ainda mais excruciantes. Ainda, Ari Aster enquadra a morte da família de Dani de uma forma perturbadora, que irá nos perseguir durante o restante do filme, criando uma forte sensação de presságio. Este bom estabelecimento dos personagens e de suas relações conflituosas é essencial para que tenhamos a sensação latente de perigo mesmo quando a comunidade de Pelle é tão receptiva e amigável. Os constantes ataques de pânico de Dani, por exemplo, nos causam enorme desconforto, tanto pela posição de “objeto indesejado” que ela ocupa na mente de Christian e seus amigos, quanto por sabermos que algo está sempre prestes a acontecer.
Neste sentido, cabe mencionar que, assim como já havia feito em “Hereditário”, Ari Aster soube escolher muito bem seu elenco. Enquanto William Jackson Harper (Josh), Will Poulter (Mark) e Vilhelm Blomgren (Pelle) cumprem muito bem seu papel – especialmente este último, com sua atitude “bondosa demais para ser verdade” – Jack Reynor e Florence Pugh constroem muito bem a dinâmica de um casal que, propositalmente, não tem a menor química. Mesmo quando há raros gestos de afeto entre os dois, temos a nítida sensação de que tratam-se de uma espécie de protocolo que ambos sentem precisar cumprir, e não de um genuíno carinho que nutrem um pelo outro. Da dupla, quem tem a missão mais difícil é Jack Reynor – que vem se mostrando um excelente ator pelo menos desde “Macbeth” (2015) e “Sing Street” (2016) – uma vez que precisa fazer-nos sentir empatia por um personagem manipulador, desinteressado e arrogante, que trata Dani com condescendência e tenta “roubar” a ideia de Josh de escrever uma tese antropológica sobre a comunidade de Pelle. Já Florence Pugh, também conhecida por seu ótimo papel numa adaptação (bastante inortodoxa) de Shakspeare, “Lady Macbeth” (2016), é capaz de construir uma protagonista com muitas camadas, que acaba se submetendo a um relacionamento infeliz e uma situação claramente desconfortável por sentir-se isolada após a morte de sua família.
A temática do acolhimento, da família, aliás, é muito bem utilizada pelo roteiro de Ari Aster no que diz respeito a seus protagonistas, uma vez que acompanhamos tanto o desejo interno por acolhimento em uma comunidade sentido por Dani, quanto a tentativa de Christian de achar um tema para sua tese, e até mesmo um propósito de vida, naquela pequena comunidade sueca. E é justamente por conta disso que sinto que o roteirista/diretor comete um erro ao escalonar a violência de seu filme cedo demais, com uma segunda e ainda mais perturbadora cena de suicídio. Apesar de conter um gore muito competente e uma construção de tensão fenomenal durante os intermináveis rituais que, sabemos, levarão à tragédia, o posicionamento desta cena no fim do primeiro ato/início do segundo tem dois efeitos negativos: em primeiro lugar, ela nos impede de, naquele primeiro momento, sentir mais empatia e tentar entender melhor as motivações e a cultura daquela comunidade; em segundo, e mais grave, ela acaba por prejudicar muito o segundo ato do filme, que acaba tornando-se arrastado demais porque, a partir daquele ponto, estamos constantemente a espera de uma nova explosão de violência que demora muito a vir, o que nos faz perder um pouco de interesse no restante das atividades e rituais que acompanhamos.
Pela descrição de sinopse que fiz lá no começo do texto, fica bastante claro que “Midsommar” deriva muito de seu enredo do clássico “The Wicker Man” (1973). Sinto exatamente, portanto, que faltou a Ari Aster um pouco do controle de narrativa presente no filme no qual se baseia, mais competente em criar uma tensão gradual que culmina em um clímax explosivo. O terceiro ato de “Midsommar”, até por ser muito mais longo e, portanto, mais torturante, acaba sendo até superior ao do próprio “The Wicker Man”. Contudo, um segundo ato muito inchado e que soa derivativo demais de um sub-gênero de terror da “situação que parece amigável mas vai tornando-se macabra”, acaba por retirar da obra muito de seu brilho. Se não chega a ter a concisão narrativa de “Hereditário” (2018), entretanto, “Midsommar” é mais um trabalho de direção e roteiro muito bom de Ari Aster, um filme marcante e absolutamente perturbador, que figura muito bem como segunda adição a já promissora filmografia deste cineasta de horror.